Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 10
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 10

Camões: Embarca Engenho e Arte – “Esta é a ditosa pátria minha amada”
 “Eis aqui, quase cume da cabeça
“Eis aqui, quase cume da cabeça
De Europa toda, o Reino Lusitano,
Onde a terra se acaba e o mar começa
E onde Febo repousa no Oceano.
Este quis o Céu justo que floreça
Nas armas contra o torpe Mauritano,
Deitando-o de si fora; e lá na ardente
África estar quieto o não consente.
Esta é a ditosa pátria minha amada,
À qual se o Céu me dá que eu sem perigo
Torne, com esta empresa já acabada,
Acabe-se esta luz ali comigo.
Esta foi Lusitânia, derivada
De Luso ou Lisa, que de Baco antigo
Filhos foram, parece, ou companheiros,
E nela antão os íncolas primeiros.”
Luís de Camões, “Os Lusíadas”, III, 20-21.
Depois de traições, armadilhas, tentativas de destruição e outros perigos vividos na Ilha de Moçambique, em Quíloa e em Mombaça, a armada de Vasco da Gama encontra, finalmente, um porto seguro em Melinde, onde os Portugueses são calorosamente recebidos.
O rei local acolhe-os em festa e pede a Vasco da Gama que lhe fale de Portugal e da nossa História. É isso mesmo o que ele faz, tratando primeiro “da larga terra” e, em seguida, da “sanguinosa guerra”.
Após a descrição da Europa, chega à localização geográfica de Portugal:
“Eis aqui, quase cume da cabeça
De Europa toda, o Reino Lusitano,
Onde a terra se acaba e o mar começa
E onde Febo repousa no Oceano.”
E continua com o verso emblemático, que abre a estância 21 do canto terceiro: “Esta é a ditosa pátria minha amada (…).”
O termo “pátria” tem origem etimológica no latim (“pater, -tris”) e remete não só para a ideia de “pai”, mas, sobretudo, para o conceito social e respeitoso de antepassado ou antepassados, a quem devemos um património, que importa honrar.
São eles os heróis, de uma família e de um povo… E, neste contexto, ocorre, de imediato, um outro verso famoso do canto oitavo, em que Paulo da Gama apresenta ao Catual da cidade indiana de Calecute, num tom solene, figuras grandes da história portuguesa e sintetiza a admiração e o respeito de um povo pela figura de Dom Nun’Álvares Pereira, referindo “Ditosa pátria que tal filho teve!”.
Foi ele, de facto, quem, em plena crise de 1383-1385, “quando a independência da pátria estava presa por um fio ténue”, tomou “sobre si a tarefa hercúlea de tudo assumir sobre seus ombros – a imagem remete necessariamente para Hércules que, traído por Atlas quando dele se aproximou para saber do paradeiro das Hespérides, aceitou tomar a seus ombros o globo terráqueo” (Aires A. Nascimento).
A par desta visão épica de Portugal, outras há com forte pendor negativo e de profundo desencanto.
Jorge de Sena, por exemplo, no poema "A Portugal" (1961), não hesita em recusar a pátria, que não é a mátria de Eduardo Lourenço, mas antes a madrasta:
“Esta é a ditosa pátria minha amada. Não.
Nem é ditosa, porque o não merece.
Nem minha amada, porque é só madrasta.
Nem pátria minha, porque eu não mereço
A pouca sorte de ter nascido dela.”
E a revolta do poeta termina em apoteose:
“(…) és peste e fome e guerra e dor de coração.
Eu te pertenço, mas ser's minha, não.”
Para Jorge de Sena, Portugal não é a mátria lusitana exaltada n’“Os Lusíadas”, mas, antes, a madrasta que provoca desencanto.
384 anos depois da Restauração ou Aclamação da Independência, a 1 de dezembro de 1640, Portugal continua um desafio à cidadania de todos e de cada um de nós. Até porque permanece lapidar o verso final do poema “Infante” (“Mensagem”, 1934), de Fernando Pessoa: “Senhor, falta cumprir-se Portugal!”.
A Organização
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 9
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 9

Camões: Embarca Engenho e Arte – “Descalça vai pera a fonte”
Descalça vai pera a fonte
Lianor pela verdura;
Vai fermosa, e não segura.
Leva na cabeça o pote,
O testo nas mãos de prata,
Cinta de fina escarlata,
Sainho de chamalote;
Traz a vasquinha de cote,
Mais branca que a neve pura.
Vai fermosa, e não segura.
Descobre a touca a garganta,
Cabelos de ouro entrançado
Fita de cor de encarnado,
Tão linda que o mundo espanta.
Chove nela graça tanta,
Que dá graça à fermosura.
Vai fermosa, e não segura.
Luís de Camões, Lírica, fixação de texto de Hernâni Cidade, Lisboa, Círculo de Leitores, 1980, p. 128.
Neste vilancete, o sujeito poético descreve Lianor, num ambiente rural, a caminho da fonte, onde vai buscar água…, e não só!
Ela é uma jovem frágil, delicada e formosa, com graciosidade e pureza interior, mas insegura: “Vai fermosa, e não segura.” Esta ideia constitui, aliás, o refrão, repetido no final de cada estrofe.
Por um lado, valoriza-se a beleza física de Lianor, num retrato idealizado à maneira clássica, em que sobressai a pele branca e os cabelos louros, qualidades realçadas com as metáforas "mãos de prata" – "mais branca que a neve pura" – e "cabelos de ouro entrançado":
“(…) Tão linda que o mundo espanta.
Chove nela graça tanta,
Que dá graça à fermosura."
E, para acentuar a beleza, o sujeito poético recorre a cores contrastantes: branco – símbolo de pureza e de inocência –, vermelho – que remete para a força, a vida, a sensualidade – e também à prata e ao ouro, que sugerem brilho, luminosidade, importância, perfeição.
Mas, para além da exaltação da beleza física e também espiritual de Lianor, surge a referência à sua posição social humilde e ainda, sobretudo, à sua insegurança, porque ela vai à fonte, não apenas para buscar água, mas para se encontrar, às escondidas, com o seu namorado.
Os elementos bucólicos presentes neste vilancete, escrito em redondilha maior, a medida velha de versos com sete sílabas, bem como a conceção da mulher e do amor, colocam o poema de Camões na linha da poesia trovadoresca medieval.
Sobressai a conceção platónica do amor, assim como uma visão idealizada e estereotipada da mulher, com os cabelos da cor do ouro e as mãos da cor da prata.
Em pleno século XXI, estes códigos de beleza continuam válidos em algumas situações. Mas, em muitos outros contextos, são bem diferentes os atuais padrões de beleza femininos difundidos até à exaustão, a ponto de, por vezes, causarem profundo impacto negativo, em termos de saúde física e mental…
Enfim, tal como conversámos na última semana, “(…) mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”.
Sugerimos a escuta do vilancete “Descalça vai pera a fonte”, interpretado pela soprano Ana Madalena Moreira, acompanhada ao piano por Lucjan Luc…
A Organização
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 7
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 7

“Numa mão sempre a espada e noutra a pena.”
Olhai que há tanto tempo que, cantando
O vosso Tejo e os vossos Lusitanos,
A Fortuna me traz peregrinando,
Novos trabalhos vendo e novos danos:
Agora o mar, agora experimentando
Os perigos Mavórcios inumanos,
Qual Cânace, que à morte se condena,
Numa mão sempre a espada e noutra a pena.
Luís de Camões, “Os Lusíadas”, VII, 79
Nesta reflexão final do canto VII de “Os Lusíadas”, Camões queixa-se da ingratidão de que é vítima. Ele que sonhava com a coroa de louros dos poetas, vê-se votado ao esquecimento e à sorte mais mesquinha, sem ver reconhecido pelos que detêm o poder o serviço que presta à Pátria.
Usando um texto de tom marcadamente autobiográfico, faz referência a várias etapas do seu percurso e suplica auxílio porque, segundo diz, teme que o barco da sua vida e da sua obra não chegue a bom porto. Uma vida que tem sido cheio de adversidades: a pobreza, a desilusão, perigos do mar e da guerra, “Numa mão sempre a espada e noutra a pena.”
Neste retrato, surge, novamente, o modelo de virtude e de dedicação heroica. E, no verso “Numa mão sempre a espada e noutra a pena”, destaca as suas facetas de guerreiro e de poeta, valorizando a conjugação da bravura com o amor à poesia.
Adaptando aos tempos que correm, em pleno século XXI, dir-se-ia que o cidadão exemplar é o humanista, é aquele que alcança o equilíbrio perfeito entre a vida ativa e a vida contemplativa.
Outra abordagem
Uma abordagem intertextual do excerto permite-nos, no entanto, alcançar outras dimensões. É o que propomos, agora, guiados pelo saber de Frederico Lourenço, num texto de 2017:
“(…) Todos conhecemos o famoso verso do canto VII d' ‘Os Lusíadas’: ‘numa mão sempre a espada e noutra a pena’, com que Camões se descreve a si próprio.
A maior parte das pessoas pensa: ah, pois! O grande herói da Índia, dos Descobrimentos, do Império! A espada e a pena, as armas e as letras!
Só que não é nada disso. A espada de que fala Camões é outra espada. É a espada dada por um pai à filha para ela se suicidar. Porquê? Porque ela engravidou do próprio irmão.
Leiamos a citação toda: ‘Qual Cânace que à morte de condena, / Numa mão sempre a espada e noutra a pena.’
Tudo está em percebermos quem é esta Cânace, a quem Camões se compara. Ora Cânace é uma figura das ‘Heróides’ do poeta romano Ovídio, muito lido e imitado por Camões em toda a sua obra. Os versos de Camões são uma recriação dos seguintes versos de Ovídio: ‘na mão direita segura o cálamo; na outra segura a espada impiedosa’ (‘Heróides’ 11,3).
Com estas palavras, pois, Camões está a colocar-se na pele de:
1. uma mulher;
2. apanhada numa situação tão extrema da sua vida;
3. grávida do próprio irmão;
4. que acaba de receber do pai a espada para se suicidar.
Mas a questão complica-se ainda mais. Temos de ver agora que os versos do canto VII d' ‘Os Lusíadas’ retomam, por sua vez, os seguintes versos do canto V: ‘numa mão a pena e noutra a lança’.
Quem é aqui o alter-ego de Camões? Júlio César. Basta ir ver a estância 96 do canto V. E não é difícil percebermos que Camões tem gosto em se identificar com a figura de Júlio César, pois também César era um autor de quem se dizia que salvara os seus escritos a nado.
No entanto, este mesmo Júlio César também era referido nas biografias antigas romanas, conhecidas na época de Camões, como homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens.
Juntemos a isto o canto III d' ‘Os Lusíadas’, em que Camões se compara a Orfeu, por sua vez explicitamente referido no canto X das ‘Metamorfoses’ de Ovídio como autor (em latim ‘auctor’) de amores homossexuais.
Dizem que, nas sociedades repressivas como era o Portugal de Camões dominado pela Inquisição, quanto mais inteligentes os textos menos os censores os vão entender. Felizmente, o poema de Camões é tão inteligente que, em 2017, ainda estamos a tentar entendê-lo.”
Frederico Lourenço, Coimbra, 2017-10-11
Disponível em https://www.facebook.com/professor.frederico.lourenco/posts/816270089862430/, acedido em 11/11/2024
A Organização
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 8
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 8

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía.
Luís de Camões, Lírica, fixação de texto de Hernâni Cidade, Lisboa, Círculo de Leitores, 1980, p. 164.
Neste soneto, o sujeito poético reflete sobre a mudança, um tópico frequente na Renascença, evocando a máxima clássica “tempus fugit” – “o tempo voa”.
Porventura influenciado por um dos grandes filósofos gregos, Heráclito, que defendia que tudo é movimento e está em constante evolução, o eu lírico assinala, ao longo do poema, várias transformações, seja no mundo, seja nas pessoas e nele próprio, nos sentimentos, vontades e interesses:
"(…) mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades."
“No entanto, se as mudanças na Natureza (no seu processo de renovação) assumem um sentido positivo, o mesmo não acontece com as alterações de pendor negativo na vida do sujeito lírico.” Daí que demonstre, no final do soneto, “o seu mais sincero espanto por já não se conseguir reconhecer no que vai mudando, uma vez que até a própria mudança está a modificar-se.”
Face ao carácter inexorável da passagem do Tempo e da efemeridade da vida, “tirania” a que ninguém escapa, resta a memória, uma memória triste, pessimista e amarga de saudade do passado.
“Desta forma, podemos dizer que a tónica do soneto se prende com demonstrar a/o instabilidade/ desconcerto do mundo, ou seja, esclarecer que, enquanto as mudanças da natureza assumem uma tendência previsível (por exemplo, as estações do ano), as mudanças vividas pelas pessoas, além de, muitas vezes, não serem antecipáveis, estão invariavelmente associadas à passagem do tempo” e ao seu carácter imprevisível.
O sujeito poético vive, assim, um estado emocional de conflito, de desagregação, de profunda tristeza e mágoa, provocado, precisamente, “pela ideia de que o universo é dominado pelos paradoxos e pela mudança, que espoletam uma perplexidade e um labirinto interior (sem rumo).”
“Pessimista e atónito para com a sua realidade – que não compreende –, sente-se completamente ludibriado pelo destino e pela fatalidade (fatum). (…) Ou seja, a mudança mais surpreendente é a de que já não se muda como era costume, isto é, verifica a mudança da própria mudança.” (Tiago Ferreira, “’Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’, de Luís de Camões”, in https://obarrete.com/2020/06/26/mudam-se-as-vontades-luis-de-camoes/, acedido em 15/11/2024).
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” é o título do primeiro álbum de originais de José Mário Branco, editado em 1971, em França, durante os anos de exílio do cantautor.
Vamos ouvir a canção “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, à qual foi apenas acrescentado o refrão “E se todo o mundo é composto de mudança/ troquemos-lhe as voltas, que inda o dia é uma criança.”
A Organização
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 6
Camões: Embarca Engenho e Arte – Edição 6
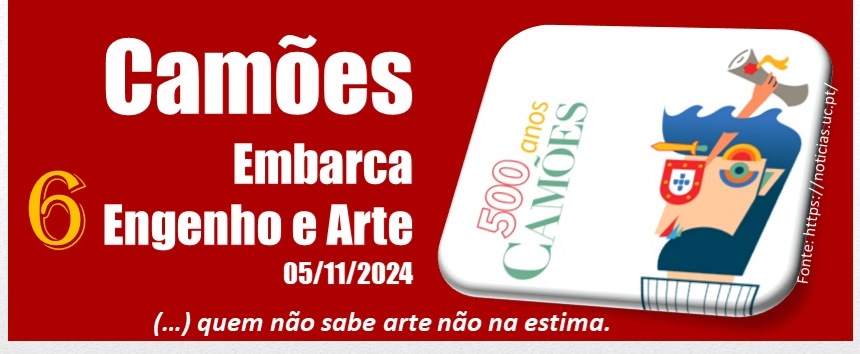
(…) «quem não sabe arte não na estima.»
«Enfim, não houve forte Capitão,
Que não fosse também douto e ciente,
Da Lácia, Grega ou Bárbara nação,
Senão da Portuguesa tão-somente.
Sem vergonha o não digo, que a razão
De algum não ser por versos excelente,
É não se ver prezado o verso e rima,
Porque quem não sabe arte não na estima.»
Luís de Camões, “Os Lusíadas”, V, 97.
Nas estrofes finais do canto V, Camões critica os Portugueses, seus contemporâneos, porque desprezam a poesia, as letras, a arte em geral.
De facto, grandes figuras da Antiguidade Clássica, seja da Grécia, seja de Roma, para além da arte bélica, tinham grande erudição e cultura.
Já no que diz respeito a Portugal, o narrador lamenta, envergonhado, que a epopeia da expansão marítima só tenha produzido heróis de força bruta, sem qualquer estima pela arte e pela cultura:
«Enfim, não houve forte Capitão,
Que não fosse também douto e ciente,
Da Lácia, Grega ou Bárbara nação,
Senão da Portuguesa tão-somente.»
Neste queixume, Camões inclui o próprio Vasco da Gama, pela indiferença que manifestava quanto à divulgação dos seus feitos, ao contrário do que se tinha passado com os heróis da Antiguidade Clássica.
Ora, a verdade é que os Portugueses são bravos e destemidos e o próprio Vasco da Gama superou os antigos em heroicidade. Mas esta heroicidade só será imortalizada se for cantada pelos poetas, se houver sensibilidade para apreciar e acarinhar a arte, a poesia. Doutro modo, perde-se a nossa memória coletiva e perde-se a força inspiradora do exemplo, que incentiva o homem à imitação ou superação desses feitos sublimes e mobiliza para novos feitos.
Daí a importância do ideal de herói renascentista, um herói que concilia as armas e as letras. E daí o lamento do poeta, que não esconde a sua perplexidade perante o facto de os Portugueses serem “tão ásperos”, “tão austeros, / tão rudos e de engenho tão remisso” (V, 98), e, pior ainda, não se preocuparem minimamente com esta sua pobre condição.
Séculos e séculos depois, este desafio continua intemporal.
Em 2024, cada um dos Portugueses manifesta apetência pela arte e estima a cultura?
Quem não sabe arte não a estima. E quem não estima a arte não valoriza a dimensão libertadora da condição humana!
A arte humaniza, a arte salva! A arte eleva-nos ao universo da criação.
Mas, afinal, o que é arte?
Eis uma reflexão de “GCF Global”…
A Organização





